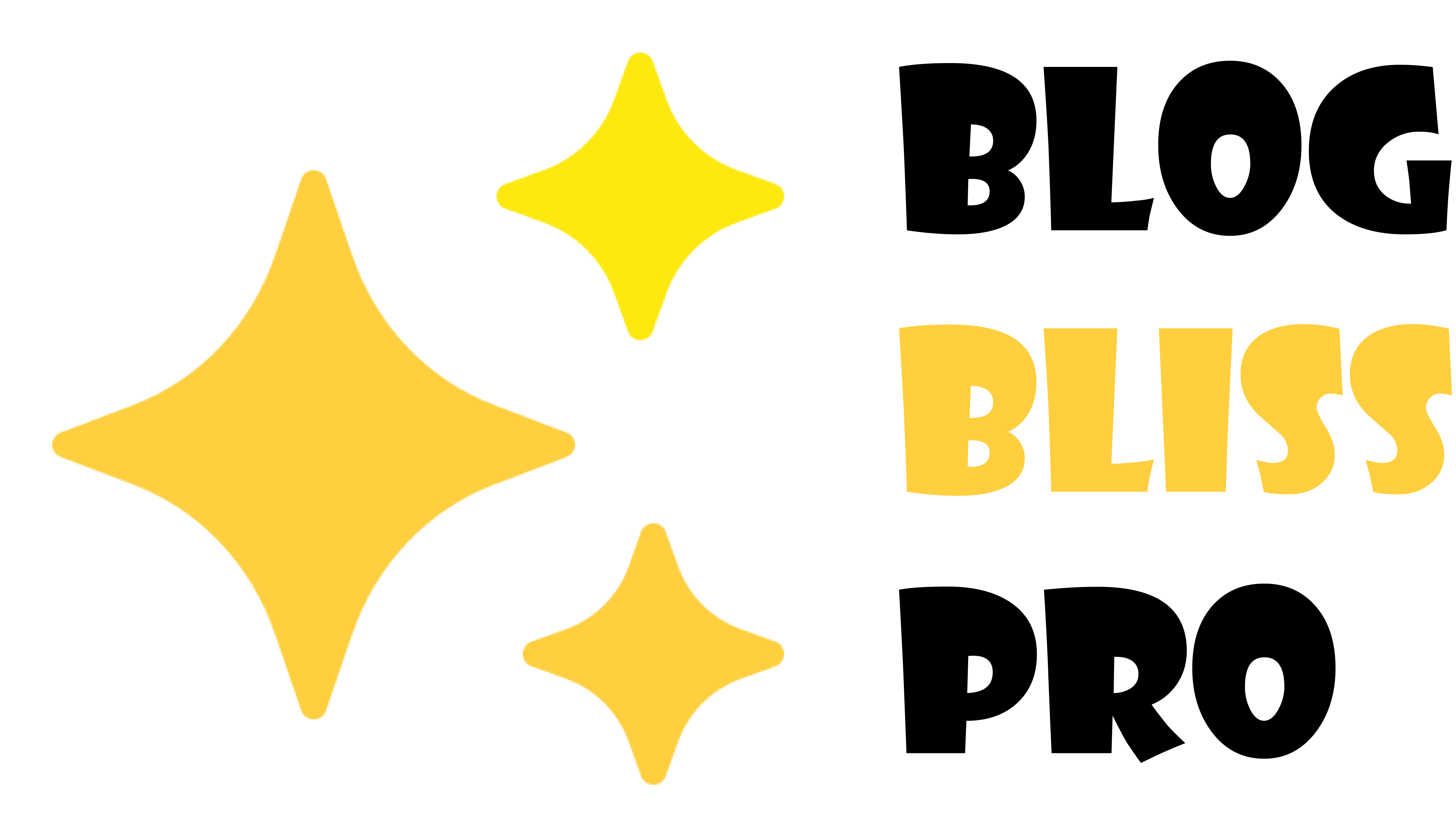A imortalidade digital é um conceito que tem vindo a conquistar as mentes há décadas. E agora, com a expansão da inteligência artificial e a sua popularização, pode parecer que estamos mais perto do que nunca de a alcançar. Em todo o caso, é o que prometem as empresas que já começaram a “recriar” pessoas falecidas – desde familiares falecidos a Marilyn Monroe. Quem ganha dinheiro com isto, que tecnologias existem e será a imortalidade digital realmente possível?
Desde o lançamento da primeira temporada da série de ficção científica “Black Mirror”, que mostrou, entre outras coisas, como a tecnologia pode tornar possível apagar as fronteiras entre a vida e a morte, a tecnologia disponível para a humanidade avançou significativamente e, por vezes, quase torna possível tornar realidade histórias aparentemente inacreditáveis. Os avanços da ciência moderna já permitem a criação de duplos digitais ou clones de pessoas. O florescente campo da necromancia digital, que permite a interação com cópias digitais dos mortos criadas por inteligência artificial, captou a imaginação tanto dos investigadores como do público em geral, oferecendo possibilidades que outrora eram consideradas algo fora do domínio da ficção científica.
A ética da imortalidade digital
A necromancia digital refere-se à prática de utilizar a inteligência artificial e a robótica para recriar ou simular a presença de pessoas mortas. Esta prática envolve a utilização de dados de várias fontes: contas de redes sociais, gravações de voz, imagens e outros artefactos digitais.
O aspeto ético da questão foi discutido pela primeira vez na década de 2010, quando surgiu a tecnologia dipfake – e actores mortos começaram a ser ressuscitados nos ecrãs. Mais tarde, quando a Open AI surgiu e criou o modelo de linguagem GPT-3 (alguns anos antes do entusiasmo em torno do ChatGPT), o criador de jogos indie Jason Rohrer criou um chatbot que permitia a um utilizador falar com a sua noiva morta. A Open AI restringiu então o acesso a este bot por recear que pudesse levar a abusos e prejudicar as pessoas.
As possibilidades abertas não entusiasmaram toda a gente. Debra Bassett, no seu livro The Creation and Inheritance of Digital Afterlives, afirma que os “ressuscitados” podem ser criados com intenções maliciosas – para dizerem coisas que não gostariam de ter dito quando estavam vivos e para dar voz aos pensamentos de outra pessoa. Os criadores de novas tecnologias respondem, previsivelmente, que as suas intenções são puramente humanas e não representam qualquer ameaça. Joseph Murphy, diretor de desenvolvimento da DeepBrain AI, insiste: “Não estamos a criar novos conteúdos – estamos apenas a tentar replicar o que uma pessoa diria quando estivesse viva”. Não são apenas os cientistas que estão preocupados com a ressurreição das estrelas, mas também os actores – esta foi uma das razões para uma greve dos actores e argumentistas de Hollywood que temiam ser substituídos pela IA. “Posso ser atropelado por um autocarro amanhã, mas as minhas actuações podem continuar e o público nem se aperceberá que não fui eu”, disse Tom Hanks no podcast de Adam Buxton. A greve terminou agora – e os estúdios prometeram proteger os argumentistas e os actores da influência da inteligência artificial.
Até os próprios criadores de produtos digitais de “prolongamento da vida” admitem que nem sempre partilham as necessidades daqueles que precisam dos produtos. Num vídeo do YouTube em que anuncia o produto Live Forever, o diretor executivo da Somnium Space, Artur Sychov, diz que o conceito não é para todos. “Se eu quero conhecer uma cópia do meu avô num meta-universo? Não quero. Mas aqueles que o quiserem, podem fazê-lo”.